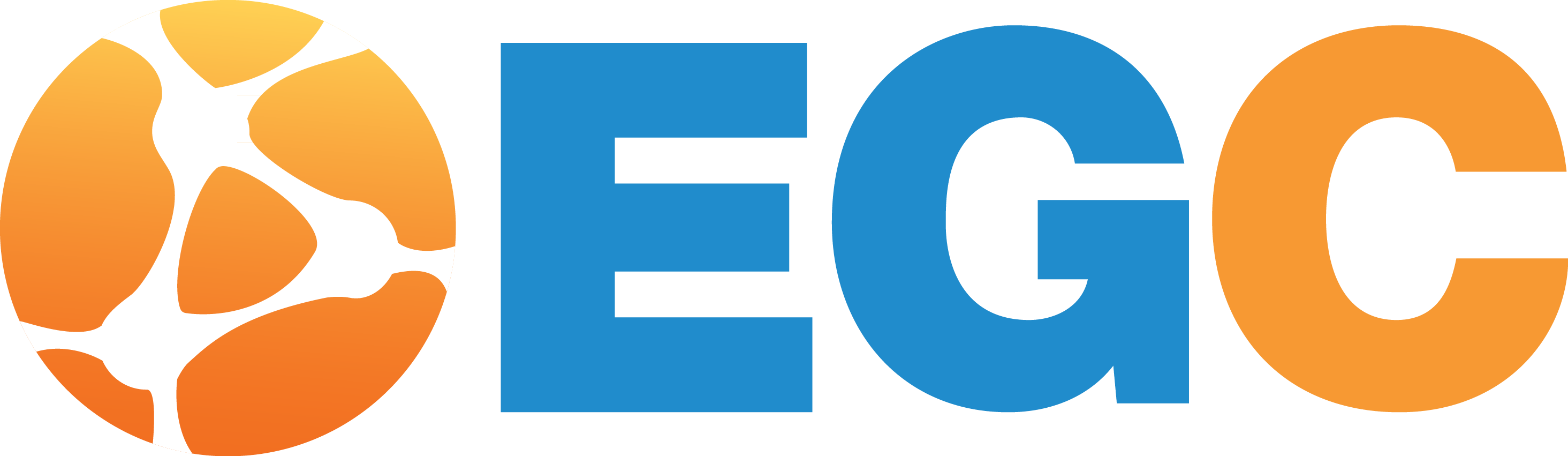
Universidade Federal de Santa catarina (UFSC)
Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC)
Detalhes do Documento Analisado
Centro: Ciências da Educação
Departamento: Metodologia de Ensino/MEN
Dimensão Institucional: Pesquisa
Dimensão ODS: Social
Tipo do Documento: Projeto de Pesquisa
Título: ESPAÇOS HÍBRIDOS E POÉTICAS DO DESLOCAMENTO NA EDUCAÇÃO
Coordenador
- MONICA FANTIN
Participante
- JOSÉ DOUGLAS ALVES DOS SANTOS
- LIZANDRA VAZ SALVADORI
- MONICA FANTIN (D)
Conteúdo
Diante do confinamento que vivemos em decorrênc...diante do confinamento que vivemos em decorrência da pandemia e das mais diversas propostas e usos das tecnologias digitais, compreender uma situação formativa requer analisar o contexto em que está inserida e considerar as circunstâncias em que vivemos (ortega y gasset, 2018). afinal, estamos inaugurando um tempo de instabilidade que parece não ter um fim e que certamente que repercute em nossas vidas que esse desconfinamento nos mostra e nos leva a buscar outras possibilidades educativas que articulem nossa vida onlife (floridi, 2017) bem como os instrumentos e dispositivos dos contextos e sistemas de relação de que fazem parte do nosso cotidiano (rivoltella, 2020) com uma estética do caminhar (careri, 2017).
afinal, a situação de pandemia nos levou a pensar na importância dos espaços abertos, sobretudo junto a natureza, como experiência da liberdade de ensinar-aprender e como superação de certos confinamentos. confinamentos que de certa forma já estavam presentes ainda antes da pandemia e que, para além de certos aspectos de fobia social que também se instalou devido a pandemia, pode ganhar outra visibilidade junto à reflexão sobre a pedagogia do lugar e outras possibilidades de ensinar-aprender fora da sala de aula.
nessa articulação, o desafio é criar contextos de aprendizagem que envolvem as dimensões da corporeidade junto com a possibilidade de conhecer/descobrir o território e ocupar os espaços públicos da cidade na perspectiva do pertencimento e de construção de propostas educacionais mais significativas e integradas à natureza e ao patrimônio histórico e cultural. também remete ao desafio de articular tal experiência aos “conteúdos curriculares” entendidos como possibilidades e espaços de conhecimentos situados, de autonomia, de liberdade e de experimentação de práticas disruptivas na educação. afinal, as relações que envolvem educação, saúde e pandemia, bem como aproximação e afastamento nessas instabilidades implica também a necessidade de pensar os processos de aprendizagem para além dos limites das escolas.
para além do argumento do “transtorno de déficit de natureza” (louv, 2016) e da necessidade de repensar a relação de adultos e crianças com o tempo que se dedicam às atividades ao ar livre, visto que em certos contextos as crianças passam menos tempo ao aberto que um recluso (scretch, 2016), vale refletir sobre como o digital tem colonizado nossa vida, tornando-a também digital (rivoltella, 2019). na perspectiva de assumir uma filosofia da informação como “filosofia do nosso tempo para o nosso tempo” (floridi, 2017), reafirmamos a importância da liberdade de escolha para ir além da máquina e sem abrir mão dela, aproximando-nos de propostas educativas que dialoguem com tese de fundo “verde e azul” (floridi, 2020) num projeto de formação humana ético que une políticas verdes (economia green) e azuis (economia e cultura digital).
o ato de caminhar possui os mais diferentes significados na história (solnit, 2016) e que foram dando forma a nossa cultura por meio da narrativa de filósofos, poetas, caminhantes e outros estudiosos que associam o caminhar ao conhecer e filosofar. a relação entre o caminhar e o pensamento pode ser observada no método e na obra da filosofia de artistóteles e seu método peripatético, em rosseau, nietzsche e heidegger que filosofavam ao caminhar no bosque, e em diversos escritores e artistas para quem o caminhar tem sido entendido como uma prática ou um estado em que a mente, o corpo e o mundo estão alinhados num ritmo próprio.
além disso, diversas experiências educativas que conectam escolas e propostas didáticas pedagógicas com espaços públicos da cidade consolidadas já há algum tempo, inspirados na aula passeio da pedagogia freinet, hoje têm ganhado certo relevo diante do contexto atual: aulas ou saídas de estudo em espaços abertos nos centros e periferias da cidade com ênfase no urbanismo (careri, 2013, 2017); aulas em museus e outros espaços de arte e cultura (jové, 2021); aulas em movimentos artísticos e sociais em parques e espaços públicos da cidade (fantin, 2005); aulas em cinema, cineclubes, exposições e museus e muitas outras experiencias que revelam a diversidade de intervenções no, com e sobre o território reafirmando a potência de tais espaços como experiências de aprendizagem e de pertencimento. espaços que “falam”, que ensinam e que nos possibilitam repensar seu/nosso futuro em uma nova dimensão ética, estética, política, cultural e urbana (decandia e lutzoni, 2016, fantin, 2021) que remetem aos terceiros espaços.
afinal, todos os lugares podem ser espaços de aprendizagem em que os conhecimentos científico, acadêmico, prático, reflexivo e estético podem ser apresentados de forma vertical e converter-se em formas horizontais de aprendizagem (zeichner, 2010). espaços híbridos que atuam na formação docente como uma mudança de paradigma epistemológico e fazem referências ao conceito de “terceiro espaço” como lente de debate para vários cruzamentos de fronteiras entre os campus universitários, as escolas e outros espaços. tal ideia fundamenta-se no hibridismo (bhaba, 1990) e nos múltiplos discursos que os indivíduos desenham para dar sentido ao mundo.
aliás, o próprio conceito de terceiros espaços é híbrido, e pode ser entendido como lugar de construção e negociação de significados (potter e mcdougall, 2017) possuindo um significado literal e um significado metafórico. segundo os autores, o sentido literal indica um espaço extraescolar, museus, movimentos sociais de agregação, momentos de agregação livres voltados à produção de significados ou artefatos. e num sentido mais amplo, o terceiro espaço também é um modo de construir aprendizagens de forma ativa entre professores e estudantes em contextos formais.
a aprendizagem além da sala de aula implica entender que a aprendizagem ocorre muito além da educação formal, e que é fundamental conectar as escolas com oportunidades mais amplas de aprendizado num mundo em mudança. também remete a uma revisão do conceito de inovação educacional (bentley, 1998), pois a análise contemporânea das mudanças econômicas, sociais e tecnológicas solicitam também mudanças na educação.
neste sentido, os conceitos de pedagogia situada e de pedagogia do lugar conectam o currículo à vida cotidiana dos alunos focalizando a identidade, autoformação e também na formação social e nas relações entre os dois, além de possibilitar uma atenção e escuta ao que os lugares têm a nos dizer de modo a ler e decodificar o mundo política, social, histórica e esteticamente. inspirada em paulo freire, configura-se como objeto de conhecimento, espaço de ação performativa, intervenção e talvez transformação (kitchen, 2009), pois uma educação dialógica deve estar situada na cultura, na linguagem, na política e na vida de estudantes e professores de modo a transcender a experiência subjetiva, particular e local para ampliar uma dimensão mais ampla.
assim, ao ampliar os espaços educativos e articular o sentido dos terceiros espaços de forma significativa, o desafio de construir espaços geradores de situações de ensinar e aprender fora da sala de aula pode favorecer outras formas de pertencimento. nesse processo, a cultura digital também possibilita outros modos de viver e comunicar tal experiência com estratégias, interações e deslocamentos que propiciam abordar outros aspectos da formação.
na confluência de pesquisas que articulam educação, comunicação, arte, ciência e filosofia e arquitetura, pretendemos refletir sobre fundamentos e alternativas pedagógicas que integrem as possibilidades da cultura digital com as práticas da cultura corporal em diferentes espaços formativos. e temos como objetivos: refletir sobre a potencialidade dos espaços híbridos na educação; aprofundar estudos teóricos e conceituais sobre os temas em relação com a poética do deslocamento; identificar possíveis itinerários formativos e aprendizagens além da sala de aula; e dialogar com experiências que operam tais conceitos na educação.
os espaços híbridos e a estética do caminhar neste momento são entendidos como instrumento cognitivo, criativo e metodológico capaz de potencializar e construir outras paisagens formativas além da possibilidade de transformar o espaço educativo de forma simbólica e física. inspirados nos fundamentos das ecologias de saberes, das mídias e das mobilidades aliado à complexidade que envolve o sentido da sociomaterialidade na cultura digital, o desenho metodológico inspira-se na ideia de constelações como um método ou uma estratégia de pensamento para dar sentido ao conjunto referências, tecnologias e experiências que encontramos nesse movimento de ensinar e aprender.
assim, nesses espaços híbridos reais e imaginados esperamos encontrar outras paisagens – naturais, educativas, artísticas, culturais e tecnológicas - que possam dialogar com as poéticas do deslocamento ampliando, diversificando e conectando diferentes espaços e tempos de aprendizagem.
Índice de Shannon: 1.53126
Índice de Gini: 0.394876
| ODS 1 | ODS 2 | ODS 3 | ODS 4 | ODS 5 | ODS 6 | ODS 7 | ODS 8 | ODS 9 | ODS 10 | ODS 11 | ODS 12 | ODS 13 | ODS 14 | ODS 15 | ODS 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90% | 0,66% | 0,81% | 77,33% | 1,42% | 0,55% | 0,66% | 1,22% | 3,18% | 0,81% | 6,46% | 0,66% | 0,70% | 0,55% | 0,73% | 3,37% |
ODS Predominates
0,90%
0,66%
0,81%
77,33%
1,42%
0,55%
0,66%
1,22%
3,18%
0,81%
6,46%
0,66%
0,70%
0,55%
0,73%
3,37%