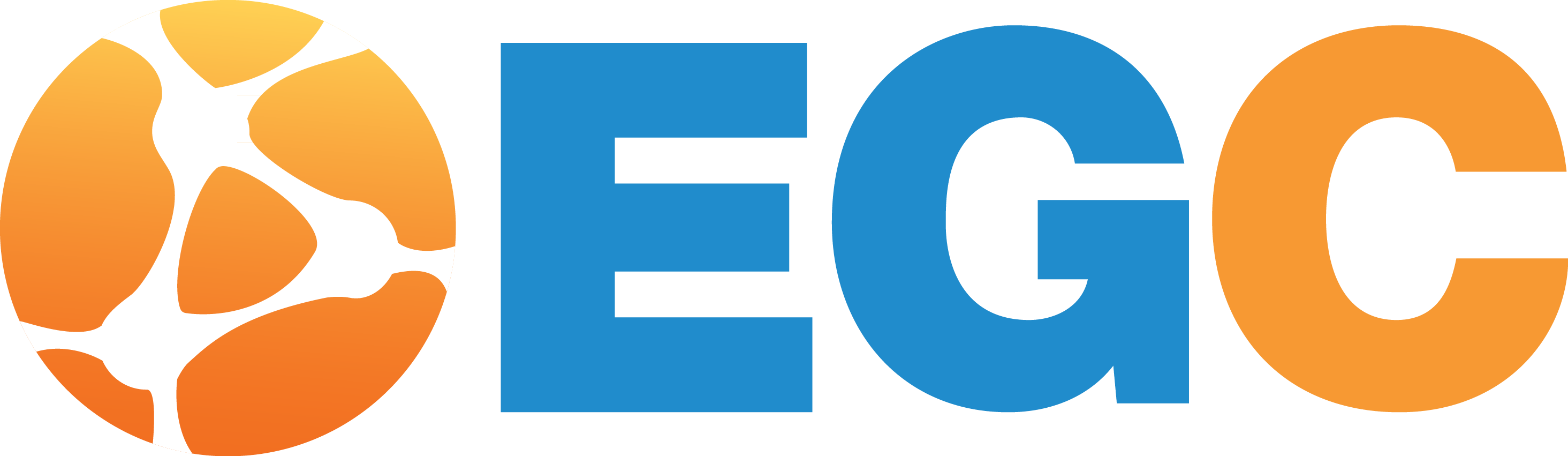
Universidade Federal de Santa catarina (UFSC)
Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC)
Detalhes do Documento Analisado
Centro: Ciências Físicas e Matemáticas
Departamento: Física/FSC
Dimensão Institucional: Pesquisa
Dimensão ODS: Social
Tipo do Documento: Projeto de Pesquisa
Título: O IMPACTO DO DEBATE SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA
Coordenador
- JOSE FRANCISCO CUSTODIO FILHO
Participante
- JOSE FRANCISCO CUSTODIO FILHO (D)
Conteúdo
No cotidiano da sala de aula na educação básica...no cotidiano da sala de aula na educação básica poucos são os estudantes que questionam, ou mesmo os professores que se perguntam, sobre o que é ciência ou quem é que faz ciência. quando esses questionamentos surgem, não raro vem à mente dos estudantes a imagem de um homem atrapalhado, incompreendido e, muitas vezes, ridicularizado pelos colegas, amigos e família, qualificado como genial pelo simples fato de 'fazer invenções e descobertas científicas? que podem, em casos mais extremos, colocar a humanidade em risco. mesmo durante ou após o ensino formal de ciências, física, química, biologia ou matemática, as compreensões construídas e propagadas em torno do que é ciência, de quem é o cientista e do seu trabalho não são muito diferentes das mencionadas anteriormente. estudos em torno das compreensões compartilhadas pelos estudantes sobre a natureza do conhecimento científico tem mostrado que imagens estereotipadas e ingênuas são as mais comumente associadas à figura do cientista e das atividades que desenvolve. mas por que estudantes da educação básica constroem imagens como estas sobre ciência e fazer ciência?. a literatura da área de educação científica sinaliza que o estudo da natureza das ciências sustenta a aprendizagem em ciências, contribuindo para a utilização deste conhecimento durante a vida. há três aspectos essenciais numa perspectiva de compreensão pública da ciência, são eles: a finalidade do trabalho científico, a natureza do conhecimento científico, e a ideia de que a ciência é um empreendimento social, valorizando portanto a percepção sobre ciências como uma atividade humana, permeada e condicionada por valores éticos, econômicos, políticos, culturais. schwartz, lederman e crawford (2004) defendem uma educação científica que possibilite a compreensão dos princípios da pesquisa científica e da natureza das ciências, para além da mera ênfase sobre fatos, leis e métodos de investigação científicos. os autores enfatizam a importância de se compreender os processos cognitivos e sociológicos por meio dos quais o conhecimento científico é desenvolvido, incluindo os acordos e convenções envolvidos, seus critérios de aceitação e de utilidade, bem como as influências e limitações que resultam do empreendimento científico como um esforço humano. carvalho e vannuchi (1995) defendem a importância de um ensino de ciências que contribua com a construção de uma visão de uma ciência inacabada, em constante desenvolvimento, influenciada por fatores sociais, históricos e pessoais. esta crise do ensino de ciências não era exclusividades do brasil. outros países – inclusive de primeiro mundo e que nas décadas de 50 e 60 participaram da corrida espacial, como o caso dos estados unidos – cujos currículos já haviam passado por refromas substanciais para atender demandas econômicas, sofriam desta mesma crise. neste mesmo sentido, matthews (1994), ao defender a inserção da história, filosofia e sociologia da ciências nas aulas de ciências, enfatiza que: a história, filosofia e sociologia da ciência não têm todas as soluções para esta crise, mas têm algumas respostas: podem humanizar as ciências e aproximá-las mais dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos; podem tornar as aulas mais estimulantes e reflexivas, incrementando assim as capacidades do pensamento crítico; podem contribuir a uma compreensão maior dos conteúdos científicos; podem contribuir um pouco na superação do “mar sem sentido” em que um comentarista disse que haviam se afogado as aulas de ciências, nas quais se recitam fórmulas e equações, mas onde poucos conheciam seus significados; podem melhorar a formação dos professores contribuindo com o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, isto é, a um melhor conhecimento da estrutura da ciência e seu lugar no marco intelectual das coisas. matthews (1994) considera que temas emergentes em filosofia, história e epistemologia das ciências podem contribuir na construção de uma imagem mais rica e valorativa da ciência do que a geralmente apresentada nos textos escolares e nas aulas de ciências. com relação a importância da apropriação destas discussões pelos professores, shulman (1986, p. 9) argumenta que: pensar com propriedade sobre o conhecimento do conteúdo requer ir além dos fatos ou conceitos de um campo. requer compreender a estrutura da disciplina […] os profesores nao só devem ser capazes de definir aos estudantes as verdades aceitas em um campo. devem também ser capazes de explicar por que uma certa proposição é considerada justificada, por que vale a pena conhecê-la e como se relaciona com outras proposições, tanto dentro da disciplina como fora dela, tanto na teoria como na prática. em síntese, este e outros autores e pesquisadores na área de ensino de ciências, defendem a importância de se „conhecer profundamente o conhecimento? em questão, para além de definições e relações básicas. defende a necessidade de se conhecer também seu campo de validade, as justificativas, as circunstâncias em que determinado conhecimento pode ser enfraquecido e até mesmo rejeitado. mas será que a formação oferecida aos professores possibilita uma visão ampla e profunda sobre estas questões? será que a formação oferecida atende às expectativas de uma formação crítica e reflexiva em torno da construção de uma imagem mais adequada da ciência? acreditamos que discutir aspectos da atividade científica é fundamental na formação inicial e continuada de professores, em especial os que atuam na educação em ciências, tendo em vista que a concepção epistemológica adotada por eles define, em grande medida, suas posturas enquanto docentes. posicionamentos permeados por concepções inadequadas implicam na reprodução de modelos sobre a construção do conhecimento científico socialmente aceito de uma ciência empírico-indutivista, aproblemática, ahistórica, acumulativa de crescimento linear, indutivista, elitista, descontextualizada e socialmente neutra (gil-pérez et al., 2001). entre as justificativas para a aceitação e reprodução desse tipo de concepção pelos professoes, gil-pérez et al. (2001) mencionam a falta de incentivo e de reflexão crítica sobre a natureza da ciência nos cursos de formação inicial e a experiência de uma formação restrita à transmissão passiva de conhecimentos rígidos e imutáveis, prática frequente nas disciplinas específicas dos cursos das áreas de ciências e tecnologias. se, portanto, ambas justificativas tem origem na formação desse profissional, faz se necessário questionar: quais as visões sobre a natureza da ciência e do fazer científico disseminada nos cursos de formação de professores de ciências? quais as crenças epistemológicas compartilhadas pelos formadores de professores de ciências? que crenças sobre a natureza da ciência e do trabalho científico são transmitidas/propagadas nas relações que os professores estabelecem com os licenciandos e com o conhecimento nas disciplinas que lecionam nos cursos de formação? gil-pérez et al. (2001) sugerem que uma visão aceitável do trabalho científico pode ser construída recusando-se ideias do método científico e de um empirismo ingênuo, refletindo-se sobre o papel do pensamento divergente na investigação, a procura de coerência global e a compreensão do caráter social do conhecimento científico. mas como construir com os professores e futuros professores uma visão aceitável do trabalho científico? qual a efetividade de discussões, às vezes isoladas, em algumas disciplinas em cursos da área das ciências exatas em torno da temática da natureza do conhecimento e trabalho científico na incorporação de concepções mais adequadas sobre a natureza da ciência na formação dos licenciandos? qual a influencia das crenças dos professores formadores na construção de uma visão sobre ciência e sobre o trabalho científico? neste projeto, temos como objetivos: a) caracterizar a influência das crenças sobre a natureza das ciências e do fazer científico de físicos professores universitários de física que atuam nos cursos de licenciatura em física; b) mapear a oferta de disciplinas com discussões sobre filosofia e epistemologia das ciências em cursos de licenciatura em física no brasil; c) identificar as crenças epistemológicas compartilhadas por físicos formadores de professores, ; d) caracterizar os impactos de disciplinas com discussões sobre epistemologia das ciências na formação dos licenciandos egressos do curso de licenciatura em física que atuam como professores de física do ensino médio; e) caracterizar como as crenças sobre a natureza da ciência e do fazer científico influenciam a ação docente de físicos formadores de professores de física; f) propor elementos que auxiliem na construção de uma visão aceitável da natureza da ciência e do trabalho científico junto a formadores de professores e futuros professores.
Índice de Shannon: 2.4671
Índice de Gini: 0.635491
| ODS 1 | ODS 2 | ODS 3 | ODS 4 | ODS 5 | ODS 6 | ODS 7 | ODS 8 | ODS 9 | ODS 10 | ODS 11 | ODS 12 | ODS 13 | ODS 14 | ODS 15 | ODS 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,76% | 2,32% | 1,57% | 59,05% | 3,42% | 1,23% | 1,23% | 4,74% | 6,75% | 1,43% | 1,82% | 1,26% | 1,31% | 3,99% | 2,19% | 5,95% |
ODS Predominates
1,76%
2,32%
1,57%
59,05%
3,42%
1,23%
1,23%
4,74%
6,75%
1,43%
1,82%
1,26%
1,31%
3,99%
2,19%
5,95%